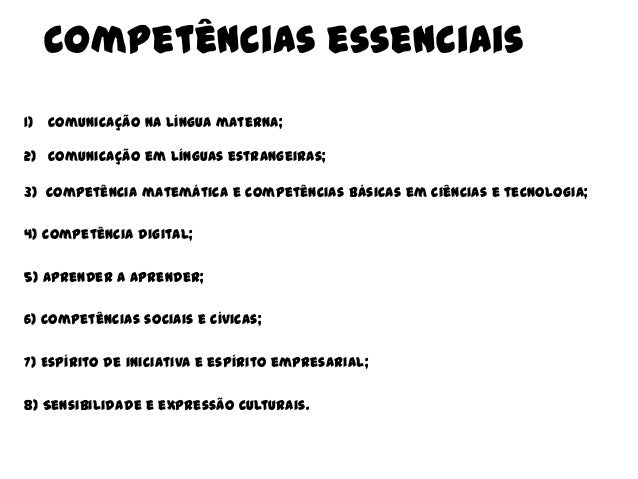Na emergência de novos modos de regulação
da educação, um dos efeitos a que assistimos, segundo Almeida (2005,p.23), é ao
aumento da regulação transnacional que, entre outros motivos, têm origem em estruturas
supra-nacionais, que regulam o sistema educativo, como é o caso da União
Europeia, que advoga a criação do Espaço Europeu da Educação, formando uma
comunidade de educação entre todos os seus estados membros.
Dale (2008) defende que há uma relação entre
a construção de um espaço europeu de educação e a construção da “Europa” como
entidade.
Esta construção passa por 4 grandes mudanças que, segundo o autor são:
- mudanças nos contextos globais do projeto europeu e as suas implicações para a educação: hoje não há relação entre economia e educação porque o Estado deixou se der o interventor com mais poder na economia, apareceram as grandes redes económicas transnacionais, deixou de ser o que faz tudo e relegou as funções que tinha na questão dos empregos dos indivíduos – hoje é da responsabilidade de cada um encontrar emprego. Consequência disto, é que o nacional já não pode ser visto como único e absoluto cânone de regulação do sistema educativo.
- mudanças na arquitetura dos sistemas educativos – com a modernidade aparece uma linha de teóricos que defende um modelo estandardizado de escola que deve ser aplicado à escala mundial e da mesma forma em todos os países, por outro lado, o capitalismo traz problemas que por só por si este sistema não resolve, precisando da intervenção do Estado, há uma gramática hoje associada à escola na qual se destaca a expetativa de todos serem tratados de forma igual e a educação continua a ser sentida pela sociedade como repositório da tradição e identidade nacional.
- mudanças de conceção quanto ao mandato e capacidade dos sistemas educativos – recaem sobre o sistema educativo cada vez mais exigências mas estas ainda só chegaram aos modos de governação, ainda não se fizeram sentir no mandato e capacidade das escolas.
- mudanças no valor atribuído ao contributo dos sistemas educativos – estes fazem muito mais do que está estipulado na estratégia de Lisboa, no entanto ainda não se concretizaram os objetivos ali traçados.
A regulação transnacional tem de saber
definir o conceito qualidade – é que em educação, esta não está ligada à
satisfação imediata dos clientes.
Verificamos, assim, um acentuar do modelo
de regulação mercantil que está a implementar-se também em Portugal,
atualmente.
Pese embora esta ascensão da regulação
mercantil, há que ter em conta o que Barroso (2005) chama à atenção sobre o
papel da escola pública. Qualquer que seja o modelo de regulação da escola
pública, este tem de ter em linha de consideração os princípios fundadores da
escola pública – universalidade de acesso, equidade, promoção de igualdade de
oportunidades e justiça social. E o Estado não pode ficar como “carro-vassoura”
– metáfora de Barroso, 2005,p.746 – em que apenas dá resposta aos menos
incapazes de se adaptar ao sistema educativo. Como refere Rui Canário
(2002,p.150 cit. In Barroso,2005,p.745) «precisamos aprender a pensar ao
contrário do que a vulgata economicista recomenda, ou seja, penar a partir não
dos meios disponíveis mas das finalidades a atingir».
Se a escola pública contribui para muita
da evolução a que assistimos no último século, esta mesma escola pública tem de
oferecer, no século XXI, respostas cabais que rivalizem com os estabelecimentos
de educação privados, mostrando a sua excelência e o trabalho de muitos heróis
chamados professores que, diariamente, fazem trabalho de formiguinhas educando e
levando ao desenvolvimento de muitas pessoas.
Referências bibliográficas:
- Almeida, Ana Patrícia (2005). Os fluxos escolares dos alunos como analisador dos modos de regulação do Sistema educativo. Lisboa: FPCE (Dissertação de Mestrado)
- Dale, Roger (2008). Construir a Europa através de um Espaço Europeu de Educação In Revista Lusófona de Educação, 2008,11,13-30